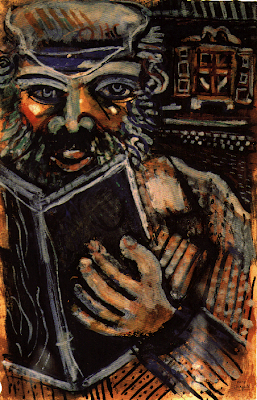
The Reader, by Marc Chagall
O que lhe dirá o leitor?
Poeta nascido no ano de 1966, em Vila Nova de Famalicão, Portugal, Luís Serguilha assume com desassombro a prática em abismo do seu “interminável texto”, que também não tem começo, como assinala E. M. de Melo e Castro não deixando dúvidas quanto à sua admiração pela radicalidade da experiência poética de Serguilha. Diante de uma certa tendência, ou precipitação da poesia contemporânea para a rarefação inoperante do verso e um realismo entre cínico e publicitário, a obra do poeta português, recortada contra um semelhante pano-de-fundo, nos causa um desconforto iluminador. Sua poesia exorbitante, movimentando-se a contragosto do solo — ao menos frente às condições brasileiras —, colabora para tornar este “teatro de operações” mais complexo.
Como objeto deste meu breve comentário acerca de sua poesia, detenho-me preferencialmente nos volumes Lorosa’e — Boca de sândalo (2001), e Hangares do vendaval (2007). Em relação à A singradura do capinador (2005) e O externo tatuado da visão (2002), os dois outros livros que pude ler de Luís Serguilha, Lorosa’e... me parece mais interessante pela opção por um fôlego metafórico de menor extensão. Vale dizer, neste livro o poeta impõe um limite disciplinador à estilema da redundância sintática transgressora com que trabalha de modo obsessivo. Os textos têm medidas inteligentes, formam pequenas peças ideográficas da prescrição do preciso em contato com a voragem do impreciso, ou compósitos de imagens ígneas do sentimento do horror ou dos transes do mundo a enublar (lançando, por sua vez, um pouco de umbra entre o poeta e o mundo da linguagem) um precário locus amoenus. Refiro-me (não escapando à indecisão de minha leitura) às alusões à gente Maubere e ao topônimo Timor, transmutadas em aparições anafóricas pontuando várias seqüências de textos: expedições ao exasperante lugar das inscrições insolventes. Mas, felizmente para mim, seus poemas jamais se aferram às medidas do representado. Eles estabelecem provocativas fraturas de som e sentido.
Não obstante a estrutural cornucópia de metáforas, o que está em jogo no seu desejo de linguagem (me parece) é uma música obsedante, um ritmo que denuncia a fabulação de uma fala prístina, nascente do discurso, um canto falado que farfalha a ramagem dos nomes. Expressão de uma vontade de trans-expressão. Arrisco-me a dizer que feito as Galáxias de Haroldo de Campos, aos poucos percebemos o (seu) texto como um mar de música tempestuosa, paralelismos, pulsações e acentos estilhaçando palavras e sintagmas contra a pedra porosa da página. Melo e Castro acerta quando aponta para uma “trans-semântica” implicada da poética de Serguilha.
Já que mencionei a “página”, elemento performativo do poema moderno — cette blancheur rigide como a definiu Mallarmé —, em Lorosa’e — Boca de sândalo anoto também o aproveitamento dos espaços em branco por onde o silêncio (projeção icônica, mas ao reverso, do verbal) respira e conspira; por onde os sentidos se anulam e ao mesmo tempo exsurgem cambiantes: cláusulas permutacionais. Cito os poemas das págs. 145 (“Carícia que abre...”) e 147 (“Timor..”), como exemplos.
Em obra há pouco lançada, Hangares do vendaval (2007), o espacialismo mallarmaico e a utilização de diversos tamanhos de fontes (caixas altas e baixas) pulsando na justaposição dos versos, entram em jogo de maneira mais franca. No entanto, a contrapelo desse constructo do extravazamento que inere à sua intuição poética, estes insumos vanguardistas mobilizados e aplicados à obra, funcionam mais como índices, ou como fisicalidade da disjunção paratática com que o texto de Serguilha se honora — forçando, por sua vez, uma ruptura com as regras endógenas e públicas do discurso —, do que como informação estrutural de feitio isomórfico. Isto é, poder-se-ia argumentar a propósito da inessencialidade desses gestos de linguagem, porquanto resta a impressão de que para efeito dos procedimentos compositivos sobre os quais se assenta o barroquismo centrífugo de Hangares do vendaval, a espacialidade e o expressionismo no uso das fontes são de importância marginal. Fique assinalado que não são de modo algum irrelevantes; configuram-se, antes, como soluções segundas. Deixemo-las, portanto, reservadas à parte, para a ocasião em que uma leitura mais generosa seja possível.
Se aceitarmos a idéia de que Luís Serguilha põe em movimento um “interminável texto”, não será um equívoco aventar a hipótese de que cada livro do seu percurso textual caberia, então, na figura de um acidente, aquilo que ficaria no caminho de algo, ou seja, um obstáculo, uma nervosa interrupção no ininterrupto. A impressão de fracasso da função referencial da linguagem produzida por tal poesia — sua celebração entre agônica e hedonista da escritura —, se materializaria no fracasso maior do receptáculo livro, espécie de conquista a contragosto onde de tempos em tempos a linguagem de poeta português precisaria estancar, parar. Em outras palavras, a voraz anamorfose imagética da poesia de Serguilha parece às vezes enveredar para um simulacro de paradoxos estetizantes frente à necessidade de moldar-se à coerção do suporte livresco. A lembrança de uma metáfora cabralina, quem sabe, venha a calhar para o caso: guardada entre as capas, a linguagem sem amarras de Luís Serguilha, em algumas ocasiões se assemelha, num paroxismo, a uma “água paralítica”. O plutonismo de sua fanopéia sobe à tona do verbal e vira flama fria; o magma das plurissignificações se solidifica.
Mas, o “interminável texto”, epíteto através do qual E. M. de Melo e Castro denomina a poesia em tela, se conota também com o conceito de texto experimental. Móbile perpétuo, fabulário e fricção de afecções verbais, cuja algaravia em fuga acaba dissipando o escrito, a poesia de Luís Serguilha mimetiza o modus faciendi da “floresta cifrada” do poema-livro Cobra Norato (1931), de Raul Bopp (1898-1984). O poeta modernista visualiza as “terras do Sem-fim” amazônico como uma fabulosa oficina de onde emergem a natura hard e o fantasmático febricitante: “Ouvem-se apitos um bate-que-bate/ Estão soldando serrando serrando/ Parece que fabricam terra/(...)/ Chiam longos tanques de lodo-pacoema/ Os velhos andaimes podres se derretem/ Lameiros se emendam/ Mato amontoado derrama-se no chão”. Com efeito, a floresta não está pronta. As árvores ainda “estão estudando geometria”. A selva, operosa, contratada “pra fazer mágica”, vive “com insônia”. Folheio o Cobra Norato, e por entre os “silêncios imensos [que] se respondem”, vislumbro as coagulações metafórico-sinestésicas presentes em Hangares do vendaval, que se recusam a alcançar um “sentido completo”: “A águia da cicatriz funda o redemoinho da fronteira para aventurar-se...”; “AS FÓRMULAS/ DO CAMALEÃO QUÍMICO...”; “...transmutações das bancas/ cambaleantes das lavandarias...”; “...as colheitas-transes/ da mão-de-obra/ das matilhas/ entre/ os teares das/ migrações/ silenciosas”, etc. Comoas árvores e os rios instáveis do poema Cobra Norato, os versículos encharcadiços de Luís Serguilha “estão condenados a trabalhar sempre sempre”. No entanto, a dialética em oximoro dos “lameiros que se emendam” (Bopp), “do calor que experimenta os alicerces esvaziados” (Serguilha), tem como resultado um discurso que se projeta — ou que fundamenta sua “razão de estado” —, no desmanche de “escrituras indecifradas” (Bopp). A leitura exegética desse processo poético se presta a um jogo, a um só tempo, fortuito e forçoso. Pois, neste caso, o livro-logro faculta ao leitor, como chave léxica, a possibilidade de começar a leitura “abrindo uma página qualquer, ao acaso”. A linguagem labiríntica de Luís Serguilha inventa “fechaduras luciferinas” para os seus não-livros.
O crítico Sérgio Paulo Guimarães de Sousa, considerando talvez o ponto de vista do leitor, comenta o “violento hermetismo” da poesia contida em Lorosa’e — Boca de sândalo. A questão que levanto é a de que não há um texto-poema hermético em absoluto. Há um poema e suas lacunas constitutivas, isto é, a invocação de uma interpretação possível para cada leitura que se dá no tempo e na vivência deste leitor-poeta. E esta leitura é irredutível a ele e ao momento que o perturba e cerca. O leitor não tem de alcançar “o” significado, ou concordar com o significado deste ou daquele superexegeta, não; ele precisa construir o seu sentido a partir de uma fruição sem fios e no interior da linguagem, a partir de um olhar quase naïf para o texto. E a poesia de Luís Serguilha, onde o mundo se revela por meio de um espetáculo às avessas, e, ainda, como filha de Hermes, divindade do trânsito e da verberação equívoca e metalingüística, do translado de signos e de insígnias, é, portanto, um convite desafiador à fantasia e à liberdade do leitor-colaborador, leitor-intérprete — em sentido musical.
Poeta nascido no ano de 1966, em Vila Nova de Famalicão, Portugal, Luís Serguilha assume com desassombro a prática em abismo do seu “interminável texto”, que também não tem começo, como assinala E. M. de Melo e Castro não deixando dúvidas quanto à sua admiração pela radicalidade da experiência poética de Serguilha. Diante de uma certa tendência, ou precipitação da poesia contemporânea para a rarefação inoperante do verso e um realismo entre cínico e publicitário, a obra do poeta português, recortada contra um semelhante pano-de-fundo, nos causa um desconforto iluminador. Sua poesia exorbitante, movimentando-se a contragosto do solo — ao menos frente às condições brasileiras —, colabora para tornar este “teatro de operações” mais complexo.
Como objeto deste meu breve comentário acerca de sua poesia, detenho-me preferencialmente nos volumes Lorosa’e — Boca de sândalo (2001), e Hangares do vendaval (2007). Em relação à A singradura do capinador (2005) e O externo tatuado da visão (2002), os dois outros livros que pude ler de Luís Serguilha, Lorosa’e... me parece mais interessante pela opção por um fôlego metafórico de menor extensão. Vale dizer, neste livro o poeta impõe um limite disciplinador à estilema da redundância sintática transgressora com que trabalha de modo obsessivo. Os textos têm medidas inteligentes, formam pequenas peças ideográficas da prescrição do preciso em contato com a voragem do impreciso, ou compósitos de imagens ígneas do sentimento do horror ou dos transes do mundo a enublar (lançando, por sua vez, um pouco de umbra entre o poeta e o mundo da linguagem) um precário locus amoenus. Refiro-me (não escapando à indecisão de minha leitura) às alusões à gente Maubere e ao topônimo Timor, transmutadas em aparições anafóricas pontuando várias seqüências de textos: expedições ao exasperante lugar das inscrições insolventes. Mas, felizmente para mim, seus poemas jamais se aferram às medidas do representado. Eles estabelecem provocativas fraturas de som e sentido.
Não obstante a estrutural cornucópia de metáforas, o que está em jogo no seu desejo de linguagem (me parece) é uma música obsedante, um ritmo que denuncia a fabulação de uma fala prístina, nascente do discurso, um canto falado que farfalha a ramagem dos nomes. Expressão de uma vontade de trans-expressão. Arrisco-me a dizer que feito as Galáxias de Haroldo de Campos, aos poucos percebemos o (seu) texto como um mar de música tempestuosa, paralelismos, pulsações e acentos estilhaçando palavras e sintagmas contra a pedra porosa da página. Melo e Castro acerta quando aponta para uma “trans-semântica” implicada da poética de Serguilha.
Já que mencionei a “página”, elemento performativo do poema moderno — cette blancheur rigide como a definiu Mallarmé —, em Lorosa’e — Boca de sândalo anoto também o aproveitamento dos espaços em branco por onde o silêncio (projeção icônica, mas ao reverso, do verbal) respira e conspira; por onde os sentidos se anulam e ao mesmo tempo exsurgem cambiantes: cláusulas permutacionais. Cito os poemas das págs. 145 (“Carícia que abre...”) e 147 (“Timor..”), como exemplos.
Em obra há pouco lançada, Hangares do vendaval (2007), o espacialismo mallarmaico e a utilização de diversos tamanhos de fontes (caixas altas e baixas) pulsando na justaposição dos versos, entram em jogo de maneira mais franca. No entanto, a contrapelo desse constructo do extravazamento que inere à sua intuição poética, estes insumos vanguardistas mobilizados e aplicados à obra, funcionam mais como índices, ou como fisicalidade da disjunção paratática com que o texto de Serguilha se honora — forçando, por sua vez, uma ruptura com as regras endógenas e públicas do discurso —, do que como informação estrutural de feitio isomórfico. Isto é, poder-se-ia argumentar a propósito da inessencialidade desses gestos de linguagem, porquanto resta a impressão de que para efeito dos procedimentos compositivos sobre os quais se assenta o barroquismo centrífugo de Hangares do vendaval, a espacialidade e o expressionismo no uso das fontes são de importância marginal. Fique assinalado que não são de modo algum irrelevantes; configuram-se, antes, como soluções segundas. Deixemo-las, portanto, reservadas à parte, para a ocasião em que uma leitura mais generosa seja possível.
Se aceitarmos a idéia de que Luís Serguilha põe em movimento um “interminável texto”, não será um equívoco aventar a hipótese de que cada livro do seu percurso textual caberia, então, na figura de um acidente, aquilo que ficaria no caminho de algo, ou seja, um obstáculo, uma nervosa interrupção no ininterrupto. A impressão de fracasso da função referencial da linguagem produzida por tal poesia — sua celebração entre agônica e hedonista da escritura —, se materializaria no fracasso maior do receptáculo livro, espécie de conquista a contragosto onde de tempos em tempos a linguagem de poeta português precisaria estancar, parar. Em outras palavras, a voraz anamorfose imagética da poesia de Serguilha parece às vezes enveredar para um simulacro de paradoxos estetizantes frente à necessidade de moldar-se à coerção do suporte livresco. A lembrança de uma metáfora cabralina, quem sabe, venha a calhar para o caso: guardada entre as capas, a linguagem sem amarras de Luís Serguilha, em algumas ocasiões se assemelha, num paroxismo, a uma “água paralítica”. O plutonismo de sua fanopéia sobe à tona do verbal e vira flama fria; o magma das plurissignificações se solidifica.
Mas, o “interminável texto”, epíteto através do qual E. M. de Melo e Castro denomina a poesia em tela, se conota também com o conceito de texto experimental. Móbile perpétuo, fabulário e fricção de afecções verbais, cuja algaravia em fuga acaba dissipando o escrito, a poesia de Luís Serguilha mimetiza o modus faciendi da “floresta cifrada” do poema-livro Cobra Norato (1931), de Raul Bopp (1898-1984). O poeta modernista visualiza as “terras do Sem-fim” amazônico como uma fabulosa oficina de onde emergem a natura hard e o fantasmático febricitante: “Ouvem-se apitos um bate-que-bate/ Estão soldando serrando serrando/ Parece que fabricam terra/(...)/ Chiam longos tanques de lodo-pacoema/ Os velhos andaimes podres se derretem/ Lameiros se emendam/ Mato amontoado derrama-se no chão”. Com efeito, a floresta não está pronta. As árvores ainda “estão estudando geometria”. A selva, operosa, contratada “pra fazer mágica”, vive “com insônia”. Folheio o Cobra Norato, e por entre os “silêncios imensos [que] se respondem”, vislumbro as coagulações metafórico-sinestésicas presentes em Hangares do vendaval, que se recusam a alcançar um “sentido completo”: “A águia da cicatriz funda o redemoinho da fronteira para aventurar-se...”; “AS FÓRMULAS/ DO CAMALEÃO QUÍMICO...”; “...transmutações das bancas/ cambaleantes das lavandarias...”; “...as colheitas-transes/ da mão-de-obra/ das matilhas/ entre/ os teares das/ migrações/ silenciosas”, etc. Comoas árvores e os rios instáveis do poema Cobra Norato, os versículos encharcadiços de Luís Serguilha “estão condenados a trabalhar sempre sempre”. No entanto, a dialética em oximoro dos “lameiros que se emendam” (Bopp), “do calor que experimenta os alicerces esvaziados” (Serguilha), tem como resultado um discurso que se projeta — ou que fundamenta sua “razão de estado” —, no desmanche de “escrituras indecifradas” (Bopp). A leitura exegética desse processo poético se presta a um jogo, a um só tempo, fortuito e forçoso. Pois, neste caso, o livro-logro faculta ao leitor, como chave léxica, a possibilidade de começar a leitura “abrindo uma página qualquer, ao acaso”. A linguagem labiríntica de Luís Serguilha inventa “fechaduras luciferinas” para os seus não-livros.
O crítico Sérgio Paulo Guimarães de Sousa, considerando talvez o ponto de vista do leitor, comenta o “violento hermetismo” da poesia contida em Lorosa’e — Boca de sândalo. A questão que levanto é a de que não há um texto-poema hermético em absoluto. Há um poema e suas lacunas constitutivas, isto é, a invocação de uma interpretação possível para cada leitura que se dá no tempo e na vivência deste leitor-poeta. E esta leitura é irredutível a ele e ao momento que o perturba e cerca. O leitor não tem de alcançar “o” significado, ou concordar com o significado deste ou daquele superexegeta, não; ele precisa construir o seu sentido a partir de uma fruição sem fios e no interior da linguagem, a partir de um olhar quase naïf para o texto. E a poesia de Luís Serguilha, onde o mundo se revela por meio de um espetáculo às avessas, e, ainda, como filha de Hermes, divindade do trânsito e da verberação equívoca e metalingüística, do translado de signos e de insígnias, é, portanto, um convite desafiador à fantasia e à liberdade do leitor-colaborador, leitor-intérprete — em sentido musical.
Ronald Augusto nasceu em Rio Grande (RS) a 04 de agosto de 1961. Poeta, músico, letrista e crítico de poesia. É autor de, entre outros, Homem ao Rubro (1983), Puya (1987), Kânhamo (1987), Vá de Valha (1992), Confissões Aplicadas (2004) e No Assoalho Duro (2007). Dá expediente no blog www.poesia-pau.zip.net
No comments:
Post a Comment